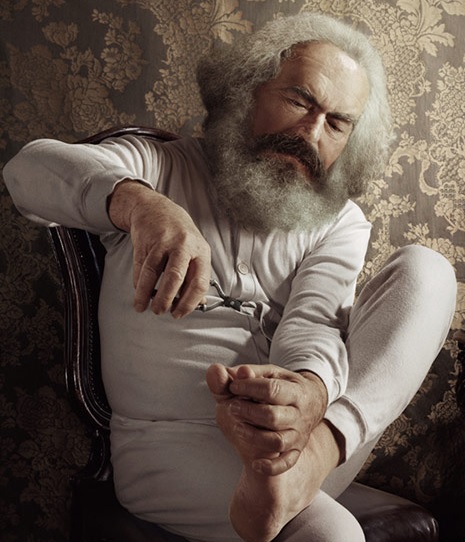Mostrando postagens com marcador propriedade intelectual. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador propriedade intelectual. Mostrar todas as postagens
quarta-feira, 9 de outubro de 2019
Brochura Humanaesfera #7 - Tecnologia (história social da internet, inteligência artificial, gameficação do comando, internet das coisas)
Saiu Humanaesfera #7. Sétima brochura (livreto) com conteúdos deste site. Este número contém três textos de análise crítica das tecnologias que estão hoje afetando profundamente as relações humanas e sociais, formantando-as e determinando-as sob o comando cada vez mais intensificado e acelerado do capital. Este livreto contém os seguintes textos:
Neste link, está o PDF com a brochura, que consiste de 11 folhas A4 para serem impressas frente-e-verso (em impressoras que imprimem em frente-e-verso automaticamente, selecione "borda curta" ou "no sentido da borda menor", ou ainda "Frente e verso, orientação vertical"), dobradas e grampeadas no meio.
Também nos formatos:
Versão e-book EPUB ou versão e-book PDF.
Para outras brochuras, ver este link: Imprensa autônoma humanaesfera
Postado por
humanaesfera
1 comentários


Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
Brochura,
escassez artificial,
gamificação,
imprensa autônoma,
Inteligência Artificial,
internet,
internet das coisas,
propriedade intelectual,
Renda Básica Universal,
tecnologia,
telecomunicações
domingo, 3 de março de 2019
"Internet das Coisas" e subsunção real da sociedade ao capital

Segundo o artigo Huawei, o 5G e a Quarta Revolução Industrial na China, a internet das coisas, base de uma suposta "4ª revolução industrial", está tendo um forte desenvolvimento e implementação, especialmente na China, com o 5G.
Já analisamos as consequências evidentes disso (juntamente com o "Blockchain") para as condições de vida da humanidade no capítulo 8 do texto "A internet: uma história de invocação, bolhas e subsunção ao capital". Abaixo, transcrevemos esse capítulo:
"8. TRANSFUSÃO DAS FORÇAS DESTRUTIVAS NOS POROS DO MUNDO FÍSICO - EMBUTIMENTO DA PROPRIEDADE PRIVADA NA "NATUREZA DAS COISAS": A UTOPIA SUPREMA DO CAPITAL (FELIZMENTE AINDA IRREALIZÁVEL)
A dominação do capital, antes de tudo e desde sempre, é o embutimento artificial da escassez na natureza objetiva. É a natureza transformada pelo trabalho alienado dos seres humanos em um poder separado deles, a propriedade privada. A população se torna privada de suas condições de existência materiais, e, consequentemente, todos, democraticamente, se vem forçados a comprar e, para isso, forçados a vender mercadorias voluntariamente, se quiserem sobreviver.
Nas sociedades pré-capitalistas, na servidão e na escravidão, a dominação era pessoal, diretamente de homens sobre outros homens, a vontade pessoal de uns sendo imposta diretamente à dos outros, negando-a. Diferentemente, o aspecto mais básico da sociedade capitalista é que ela transforma a dominação e exploração do homem pelo homem em algo que é voluntário, manifestação do livre arbítrio de cada um. Isso porque ela se dá numa condição coercitiva objetiva, a privação de propriedade, que impõe objetivamente, ou seja, de modo "neutro" ("democrático", "impessoal", "razoável", "justo", "natural") a necessidade de competir pela submissão à propriedade privada, à classe capitalista, para ganhar um salário e sobreviver.
Visto que cada proletário, porque é privado de meios de produção, não tem nenhuma coisa para vender, ele, se quiser sobreviver (socialmente e fisicamente), só tem a opção de vender voluntariamente a si mesmo, suas capacidades vitais, no mercado de trabalho, aos proprietários dos meios de produção (a classe capitalista). Ele tem livre arbítrio, já que "pode" escolher morrer de fome ou se tornar mendigo ao invés de se vender. Comprada pelos capitalistas, estes consomem essa mercadoria: o proletário é colocado para trabalhar e transformar a natureza aumentando o poder objetivo que o confronta como uma força hostil, a propriedade privada. Quanto mais ele trabalha, tanto mais privado de propriedade se torna, mais poderosa se torna a propriedade privada, e tanto mais transfere as capacidades humanas para ela (capital fixo: máquinas, automação, conhecimento e know-how tornados propriedade privada intelectual), criando ativamente o que o torna cada vez mais descartável, privado de propriedade, proletário.
Em suma, na sociedade capitalista, a dominação se apresenta como um imperativo da realidade objetiva, uma "força da natureza" ("segunda natureza") que foi criada pelo próprio trabalho humano. A escassez, a privação de propriedade, a propriedade privada, se reproduz como uma força independente que comanda todos os seres (humanos e não-humanos), inclusive a pessoa do capitalista (e também os Estados) que, se falharem na competição por acumular capital, entram em falência, e são automaticamente substituídos por outros mais "eficientes" nisso (é por isso que usamos a palavra "capital", pois é ele, de fato, que comanda a sociedade da mercadoria segundo uma lógica autônoma, automática, mas opaca, enquanto os capitalistas são apenas agentes, personificações do poder do capital, obrigados a aplicar os ditames da acumulação do capital sobre os seres humanos sob pena de caírem no inferno de se tornarem também proletários).
Mas, até hoje, a sociedade capitalista foi impossível sem um poder central, que, com polícia e prisões, impõe pela violência o respeito à propriedade privada, valida centralmente a equivalência dos meios de troca e de pagamento (dinheiro, crédito), protege e garante os contratos entre proprietários, e reprime a luta dos proletários contra a privação de suas condições de vida (luta que, por definição, desrespeita a propriedade privada dessas condições). Assim, a sociedade capitalista tem um calcanhar de Aquiles bastante concentrado e visível, que, se for atacado, desarranja instantaneamente todas as engrenagens do sistema da propriedade privada. Evidentemente, a existência desse ponto vulnerável, o Estado, causa grande preocupação à classe proprietária.
Até hoje, a única maneira da classe proprietária justificar e legitimar o Estado - que é simplesmente uma empresa territorial, que, como todo capital, é uma ditadura para imposição do trabalho assalariado, submetida aos mesmos imperativos da acumulação do capital de qualquer outra empresa - foi apresentá-lo imaginariamente como neutro, acima das classes e do capital. Isto é, "Estado de Direito", representação de sujeitos (o cidadão) cuja "autonomia" coincide com sua sujeição voluntária a ele, em que o cidadão elege seu próprio patrão (que competem para serem escolhidos nas urnas), representação da "vontade geral do povo". Em outras palavras: a ideologia democrática (ou "socialista", como nos países de capital nacionalizado tais como a URSS e Cuba).
Porém, essa legitimação puramente imaginária nunca é plenamente convincente, e muitos capitalistas preferem pregar que o Estado é totalmente separado e alienígena à propriedade privada, enquanto que na realidade, como vimos, ele sempre foi de fato a instituição suprema e indispensável que garante sua existência. É simplesmente impossível que exista propriedade privada sem polícia, tribunais, forças armadas e prisões. Até hoje.
A tecnologia blockchain (o chamado smart contract) está sendo hoje fortemente financiada com o explícito objetivo de, no futuro, tornar a propriedade privada algo que já não dependerá mais de absolutamente nenhum "poder central", se tornando embutida no comportamento automático e descentralizado das coisas e, portanto, nas relações entre humanos mediadas por essas coisas.
O objetivo é fazer cada coisa espontaneamente verificar, homologar e validar a condição pressuposta de privação de propriedade. Isso significa instantaneamente autenticar a escassez artificial de tudo pela equivalência quantitativa imposta pela propriedade privada: desde a homologação da limitação do uso pelo pagamento, a limitação da cópia por licenças de cópia, da autenticação do comando pela execução do trabalho, o enforcement instantâneo do respeito a patentes e propriedade intelectual em todas as coisas, e até das leis com os casos em que ela se aplica, etc.
Com isso, cada objeto tenderá a deixar de ser um "produto" - que é comprado de uma vez, e cujo uso, após ter sido comprado, é independente da empresa e do mercado - para se tornar um "serviço" - em que uma assinatura ou uma licença é paga continuamente pelo seu uso, como um aluguel. Isso torna seu uso a curto prazo aparentemente muito mais barato e acessível para os proletários, mas acarretará que a classe proprietária terá o poder de impor diretamente a todo e qualquer uso o ditame da escassez contínua, e a "monetização" até dos gestos mais corriqueiro (especialmente com a popularização da wearable technology, p.ex., "roupas inteligentes", realidade aumentada, próteses "transhumanas", sensores biomédicos, etc), tais como se vestir, andar, ir ao banheiro, dar descarga, bocejar, ver, ouvir, falar, respirar, até o peristaltismo, a circulação do sangue, as sinapses cerebrais ... Todos os gestos, e até o funcionamento do organismo humano, a partir de então, encarnarão a coerção ao trabalho. Será preciso, de maneira ainda mais intensa do que hoje, trabalhar desesperadamente para conseguir dinheiro para pagar por existir.
É um cenário em que a "internet das coisas" assumirá por si só, automaticamente, o papel de cunha policial-penal que separa as capacidades das necessidades humanas, impondo a submissão à reprodução da propriedade privada dos meios de vida e de produção em absolutamente todos os aspectos da existência humana.
A utopia da propriedade privada, como vimos, sempre foi converter a totalidade das circunstâncias em que os seres humanos se encontram em imperativos "naturais", "objetivos", "automáticos" e "voluntários" de submissão aos ditames da acumulação do capital, ao máximo de trabalho. A diferença agora é que, com essas duas tecnologias, blockchain e internet das coisas, a polícia será automática, ela estará na "natureza das coisas". A prisão poderá ser o sofá da tua casa ou a própria "casa inteligente" (smart home), que subitamente tranca o "colaborador"; ou poderá ser todas as coisas (todos os "serviços" na smart home e na smart city) que, de uma hora para outra, param de funcionar para ele, isolando-o da sociedade que só existe conectada nelas. E o julgamento do "crime", um algorítimo descentralizado que devolve ao "criminoso" - que nada obriga que seja informado de que foi acusado, julgado e condenado (como já são hoje os "banimentos" nas redes sociais e nas empresas de "economia colaborativa") - a execução automática da pena. "Direito" e "fato" se tornam indistinguíveis. A ideologia do "Estado de direito" torna-se totalmente desnecessária para legitimar a cunha policial-penal, que se torna a própria objetividade "neutra" das condições em que cada indivíduo atomizado se encontra forçado a "livre escolher" voluntariamente. [17]
Felizmente, tudo isso ainda é apenas o sonho do capital. E não há dúvida de que a mínima tentativa de realizá-lo, numa sociedade que é um mecanismo cego de cujo funcionamento os capitalistas e seus tecnocratas são inerentemente os menos entendidos (por terem a práxis - e portanto o pensamento - totalmente nublada pelo fetichismo da mercadoria), levará certamente a efeitos incontroláveis que ameaçarão desarranjar e fazer ruir por inteiro o próprio funcionamento global do capital. (Por exemplo, veja o que aconteceu recentemente com a pequenina experiência da criptomoeda Bitcoin - da qual se originou a própria ideia de blockchain -, criada com base na fé fetichista inabalável na mão invisível atuando pela tecnologia automovente, pelo trabalho morto.)
É muito mais provável que, no fim, a tecnologia blockchain seja utilizada principalmente pelos Estados, para manter seus registros instantaneamente atualizados e tornar esquemas de vigilância, julgamento, punição e policiamento automaticamente unificados e imediatos ao máximo. Ou senão, o que dá no mesmo, por empresas que na divisão do trabalho farão o papel unificador (a "interoperabilidade") necessário para o andamento da sociedade capitalista (que, sem isso, colapsa dilacerada pela competição, pela guerra de todos contra todos que a movimenta), cobrando taxas pelo acesso ao blockchain que é sua propriedade privada - p.ex. as implementações do blockchain, como o Ethereum, são assim -, propriedade privada que ao mesmo tempo será a infraestrutura unificante indispensável para todas as transações e coisas produzidas na sociedade capitalista. Na prática, essa taxa será a mesma coisa que um imposto, assim como essas empresas serão a mesma coisa que um Estado, que apenas deixaria de se adornar com a fachada ideológica democrática ("república", "monarquia constitucional", "socialismo") para se tornar diretamente uma monarquia absolutista corporativa (aliás, como sempre foi de fato, de um modo ou de outro: ditadura do empresariado).
Quanto à inteligência artificial, e as ilusões sobre ela, sobre desemprego e sobre renda básica universal, não vamos falar aqui, porque anteriormente já tratamos disso no texto: Inteligência artificial, desemprego e renda básica universal: mais uma panaceia da classe proprietária."
Este é o capítulo 8 do texto "A internet: uma história de invocação, bolhas e subsunção ao capital" (o texto completo está no link).
domingo, 10 de março de 2013
A escassez artificial em um mundo de superprodução: uma saída impossível
por Sander
Extratos livremente traduzidos pela Humanaesfera de Artificial Scarcity in a World of Overproduction: An Escape that Isn’t, publicado no outono -hemisfério norte- de 2010 )
[...]
O capitalismo nasceu em condições de escassez e é incapaz de funcionar sem
elas. Parece lógico que a crise crie uma tendência para artificialmente
restaurar essas condições. Mas como isso afeta as chances de a economia global
encontrar uma saída da crise atual?
A maioria das análises de como essa crise surgiu focaliza a mecânica de formação de bolhas. [..] As bolhas sempre são um fracasso do capital no cumprimento de suas promessas. O dinheiro que alimentou as bolhas foi investido com vistas aos lucros futuros, como títulos sobre eles. Quando se torna claro que esse lucro não vai se materializar, a bolha implode. Quando isso acontece num setor, a culpa costuma ser atribuída à má gestão, delírios ou corrupção. [...] Mas, hoje, economias inteiras são bolhas em implosão. É certo que há razões específicas para isso acontecer primeiro num lugar e depois em outro, mas a cadeia de implosões de bolhas está ficando tão longa que razões específicas não podem mais dar conta do que está se tornando um fenômeno geral. O problema subjacente é o mesmo tanto na Grécia como na crise imobiliária norte americana: não há lucros suficientes sendo gerados para satisfazer os títulos do capital investido.
[...]
( <sander AT verizon.net> é editor da revista InternationalistPerspective)
Notas
[1] http://gapingvoid.com
Extratos livremente traduzidos pela Humanaesfera de Artificial Scarcity in a World of Overproduction: An Escape that Isn’t, publicado no outono -hemisfério norte- de 2010 )
(imagem: carros encalhados na Espanha)
A maioria das análises de como essa crise surgiu focaliza a mecânica de formação de bolhas. [..] As bolhas sempre são um fracasso do capital no cumprimento de suas promessas. O dinheiro que alimentou as bolhas foi investido com vistas aos lucros futuros, como títulos sobre eles. Quando se torna claro que esse lucro não vai se materializar, a bolha implode. Quando isso acontece num setor, a culpa costuma ser atribuída à má gestão, delírios ou corrupção. [...] Mas, hoje, economias inteiras são bolhas em implosão. É certo que há razões específicas para isso acontecer primeiro num lugar e depois em outro, mas a cadeia de implosões de bolhas está ficando tão longa que razões específicas não podem mais dar conta do que está se tornando um fenômeno geral. O problema subjacente é o mesmo tanto na Grécia como na crise imobiliária norte americana: não há lucros suficientes sendo gerados para satisfazer os títulos do capital investido.
[...]
Um
novo paradigma de crescimento?
[...]
um político ou um economista que trabalha para uma instituição [think tank] ou
governo tem naturalmente de acreditar que [...] os abalos podem ser amortecidos
e que um novo paradigma de crescimento pode surgir deles. A partir desta
esperança, três prioridades estratégicas se seguem. [...]
1.
Aumentar os lucros mediante redução dos salários. [...] Tirar proveito do
excesso de mão de obra no mercado de trabalho global, já intensificado pela
crise, para, sempre que possível,
empurrar os salários para abaixo do valor da força de trabalho, isto é,
abaixo do custo para o assalariado de reprodução de sua vida. Não há nenhum
limite para isso, exceto a resistência da classe trabalhadora. O fato de que
pagar salários abaixo do valor da força de trabalho destrói a força de trabalho
não é um limite quando a força de trabalho é abundante. Como qualquer
mercadoria produzida em excesso, a força de trabalho se desvaloriza. Resistir
a isso não é possível dentro da lógica
do capital. Assim, na prática, resistir
se torna se recusar a ser uma mercadoria, rejeitar a forma-valor.
2.
Aumentar os lucros mediante corte das despesas improdutivas [faux frais], pelo
abandono tanto quanto possível do capital supérfluo constante e variável. Isso
significa se livrar de fábricas, máquinas e trabalhadores desnecessários e
reduzir ao máximo os custos que a administração da população supérflua implica.
Não é uma tarefa fácil, evidentemente. A ajuda dos sindicatos - que, por sua
função como gestores da força de trabalho, entendem que o que eles negociam é
uma mercadoria que, em última análise, deve obedecer à lógica do mercado - será
indispensável.
3.
Aumentar os lucros ao criar artificialmente condições de escassez. Desenvolver
uma economia global paralela, centrada nos países mais avançados, protegida -
por suas posições exclusivas no mercado - das tendências recessivas que
inevitavelmente afundam a maior parte do mundo. Isso implica uma mudança do
centro de gravidade da economia: ao invés de
fazer lucros a partir da produção de bens, fazê-los da produção de
inovação, de novo conhecimento para produzir mercadorias; um deslocamento das
economias de escala (cujo rendimento torna-se negativo com o excesso de
capacidade) para a constante adaptação e recriação de escassez.
Os
limites das duas primeiras metas estratégicas não são objetivos, pois eles
dependem de se conseguir superar a vontade de viver dos seres humanos, de
derrotar a sua capacidade de imaginar a si mesmos como algo diferente de uma mercadoria.
Mas isso não está no âmbito deste artigo. É o desenvolvimento da terceira meta estratégica
e o limite que ela encontra que pretendo examinar no resto deste texto.
“O Tao
da Insuficiência” ["The Tao of Undersupply"]
[...]
como lucrar em um mundo saturado de superprodução? Hugh MacLeod formula o
problema desta maneira:
"[...]
talvez a solução seja seguir ´O Tao da Insuficiência´. Se apenas 100 pessoas
querem comprar tuas bugigangas, então basta fazer 90 delas. Se apenas 1000, faça
900. Se apenas 10 milhões, faça 9 milhões. Isso não é difícil, mas é preciso
disciplina [1]".
O
problema com a estratégia de Hugh é que, quando existe um buraco no mercado, o
capital vai preenchê-lo. Alguém vai fazer as bugigangas, a menos que haja uma
maneira de impedi-lo. E há.
Há a
arma tosca do protecionismo, mas seu tiro geralmente sai pela culatra. Há
também o controle do mercado resultante da concentração do capital. [...]. As
atuais condições de crise estimulam a concentração do capital. Empresas mais
fortes compram rivais em apuros a preços de banana e as amarram a outras nas
chamadas "alianças estratégicas", que estabelecem controle sobre o
mercado através de redes, mais do que através de monopólios diretos ou acordos
de cartel explícitos. [...] Não é necessário um conluio explícito para que
esses conglomerados gigantes exerçam a sua capacidade conjunta de fixar preços
acima do valor de seus produtos e, unidos, reduzir a oferta com esse objetivo
[...].
[...]
Há ainda um outro caminho para esses lucros que é ainda mais
impressionante, mais típico dos nossos tempos: a mercadorização do
conhecimento.
Um
mundo de patentes
Uma
empresa que introduz uma nova mercadoria (ou um novo método para a produção de
mercadorias, o que também é uma mercadoria) no mercado, tem, por
definição, monopólio sobre ela e, desse
modo, tem a oportunidade de pôr o seu preço acima do seu valor, tanto quanto o
mercado possa aguentar. A este respeito, não importa se a novidade é real ou
criada artificialmente (através de propaganda pesada).[...]
Sua
produção é protegida por patentes. A busca por escassez artificial é
simultaneamente causa e conseqüência do crescimento vertiginoso da tecnologia
da informação, biotecnologia e outros desenvolvimentos baseados em conhecimento
e sua aplicação generalizada em todos os ramos da indústria. Como resultado, o
aumento das patentes, depois de um crescimento lento mas constante desde o
final do século XIX, foi explosivo na década de 1980. Os direitos de
propriedade intelectual se tornaram uma peça fundamental nos acordos comerciais
internacionais celebrados desde então, e as autoridades americanas e européias
repetidamente têm aumentado a duração das patentes e direitos autorais.
Há
patentes de tudo. No total há mais de 32 milhões delas, e quase dois milhões
são registradas a cada ano, incluindo o direito de impedir o uso,
desenvolvimento e venda de tecnologias, programas, produtos, métodos de
pesquisa e produção, procedimentos, e até odores e cores, por todos exceto o
proprietário da patente e aqueles licenciados por ele [2]. Até mesmo grande
parte de nossos genes já está patenteada e não pode ser estudada sem que se
pague uma licença a seu “proprietário”.
[...]
A Toyota obteve mais de 2.000 patentes apenas
para seu carro Prius. Seu objetivo é tornar impossível que outros desenvolvam
carros híbridos sem que paguem um preço elevado para a Toyota. Esse exemplo
ilustra o motivo por que o ritmo de mudança tecnológica é muito menos
impressionante do que o aumento acentuado de patentes poderia sugerir. Uma vez
que elas cobrem tantas coisas, elas efetivamente impedem o desenvolvimento de
novos produtos por concorrentes não licenciados. Muitas patentes nem mesmo são
aplicadas a novos produtos. Seus proprietários simplesmente esperam até que
outros desenvolvam algo semelhante, a
fim de extorquir uma taxa. Esta estrada para o superlucro requer exércitos de
pesquisadores e, mais ainda, exércitos de advogados para fazer valer a escassez
artificial que está constantemente sob ameaça, uma vez que o conhecimento é,
por sua natureza comunicativo e derivado de outros conhecimentos. [...] E como
toda propriedade privada, ela também requer polícias e exércitos reais, além do poder dos
Estados para manter uma ordem mundial em que a escassez artificial seja
protegida.
Um
beco sem saída
No
centro da tendência para uma economia baseada em escassez artificial está a TI
(tecnologia da informação), que tem levado ao extremo a propensão do
capitalismo para diminuir o valor das mercadorias. Visto que não custa quase
nada reproduzir bens digitais, seu valor, em termos marxistas, também é quase
nada. Com efeito, eles são tão abundantes que só podem ser tornados lucrativos
sabotando a lei do valor, limitando a concorrência para impedir que o mercado
estabeleça seus preços livremente. [...] Seus custos reais de produção são
geralmente muito baixos, mas não os seus lucros. Mas qual é a fonte desses
lucros? Visto que cada vez menos tempo de trabalho é requerido para reproduzir
suas mercadorias (o custo da P&D – pesquisa e desenvolvimento - pode ser
alto, mas não tem relação com os custos de reprodução), a parte do tempo de
trabalho que não é paga, a mais-valia, deve cair muito e, portanto, não pode
explicar o aumento de seus lucros. O lucro é mais-valia, mas ela vem de outro
lugar: é paga pelos clientes.
É por
isso que é uma falácia dizer que uma economia avançada global baseada em
escassez artificial poderia funcionar em um nível paralelo, protegida da crise
geral. Ela suga valor de outro lugar e, assim, efetivamente taxa o resto da
economia. Quanto mais ela recolhe, mais pesada a taxação. Ela, portanto, é
dependente da capacidade do resto da economia de pagar essa taxa e,
consequentemente, da sua capacidade para criar novo valor. [...]
Então,
apesar do desejo dos capitais baseados em escassez artificial de se colocar
fora do barco (ilustrado pela reação da Alemanha diante da crise da dívida na
Grécia), não há nenhuma bóia de salvamento. Pelo contrário, ao desviar capital
para a produção que cria relativamente pouco valor, isso agrava o problema
geral. No entanto, é de se esperar que os capitais voltados para a escassez
artificial continuarão a colher lucros superiores à média, até mesmo enquanto a
taxa de lucros média continua a cair. Assim a produção dessas mercadorias vai
atrair mais investimentos do que sua participação na criação do capital. Isso a
torna uma excelente candidata para a formação de novas bolhas (como tem sido),
anunciando novos abalos num sistema desesperadamente aferrado à escassez.
( <sander AT verizon.net> é editor da revista InternationalistPerspective)
Notas
[1] http://gapingvoid.com
[2] Todas
essas estatísticas sobre patentes vem da base de dados da World Intellectual
Property Organisation http://wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/
(imagem: carros encalhados na Inglaterra)
Postado por
humanaesfera
0
comentários


Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
capital rentista,
escassez artificial,
fetichismo da mercadoria,
industria cultural,
Mais-valia,
mercado financeiro,
Patentes,
propriedade intelectual,
reificação,
superlucros,
superprodução,
Trabalho imaterial
Teste de realidade: estamos vivendo em um mundo imaterial?
Por
Steve Wright,

Um padre certa vez encontrou um mestre zen e, para deixá-lo embaraçado, desafiou: "Sem usar som e nem silêncio, você pode me revelar a realidade?" O mestre zen socou-lhe a cara [1].
Negri,
entre outros, tem insistido há muitos anos, e de várias maneiras, que o capital
hoje atingiu esse estágio. Conclui que
nada além da pura dominação mantém o domínio do capital: "a lógica do
capital não mais funciona para o desenvolvimento, ela é simplesmente comando
para sua própria reprodução" [22]. Na verdade, uma série de comentaristas
sociais têm evocado o "Fragmento sobre as Máquinas" nos últimos
tempos - aparte tudo o mais, tem mantido uma certa popularidade entre aqueles
(como o futurólogo reacionário Jeremy Rifkin) que nos dizem que vivemos em uma
sociedade cada vez mais livre do trabalho. É uma pena, então, que, destes
escritores, pouquíssimos seguiram a lógica do argumento de Marx nos Grundrisse até suas conclusões. Pois
enquanto ele indica que o capital, de fato, busca "reduzir o tempo de
trabalho a um mínimo", Marx também nos lembra de que o próprio capital não
é nada mais do que o tempo de trabalho acumulado (trabalho abstrato enquanto
valor) [23]. Em outras palavras, o capital é obrigado pela sua própria
natureza, e durante o tempo que estamos presos a ele, a por o "tempo de
trabalho ... como única medida e fonte de riqueza".
"The boy with the cold hard cash Is always Mister Right, ’cause we are Living in a material world."
Notas
Um padre certa vez encontrou um mestre zen e, para deixá-lo embaraçado, desafiou: "Sem usar som e nem silêncio, você pode me revelar a realidade?" O mestre zen socou-lhe a cara [1].
As
persistentes afirmações de que hoje vivemos numa economia ou sociedade do
conhecimento levantam muitas questões para reflexão. Nas próximas linhas, quero
discutir alguns aspectos dessas afirmações, principalmente no que se refere à
noção de trabalho imaterial. Este termo foi desenvolvido dentro do campo de
pensamento que é em geral denominado "pós-obreirista"
["postworkerist"], cujo expoente mais conhecido é certamente Antonio
Negri. Enquanto suas raízes se situam no ramo do marxismo italiano do
pós-guerra conhecido como operaismo
(obreirismo), esse campo repensou e reelaborou muitos preceitos desenvolvidos
durante o auge de 1968-78 da nova esquerda italiana. Na verdade, foi a própria
derrota dos sujeitos sociais que o operaismo
identificava - primeiro e sobretudo, o assim chamado "operário massa"
engajado na produção de bens de consumo duráveis através do trabalho repetitivo
"semi-qualificado" - que levou Negri e outros a insistir que
embarcamos numa nova era além da modernidade [2].
Para
essa visão de mundo, hoje, um tipo muito diferente de trabalho ou teria se
tornado hegemônico entre aqueles que não tem nada a vender exceto sua
capacidade de trabalhar, ou estaria em
vias de alcançar tal hegemonia. A dependência crescente do capital por esse
trabalho diferente - imaterial -
teria trazido sérias implicações para o processo de auto-expansão do trabalho
abstrato (valor) que define o capital como uma relação social. Enquanto Marx
sustentava que o "tempo de trabalho socialmente necessário" associado
com sua produção fornece os meios pelos quais o capital pode medir o valor das
mercadorias (e assim a massa de mais-valor que ele espera realizar com sua
venda), Negri, pelo contrário, é da opinião de que com um tempo de trabalho
crescentemente complexo e qualificado, e de uma jornada de trabalho que cada
vez menos se separa (e no fim coloniza) do restante de nossas horas acordados,
o valor não pode mais ser calculado. Conforme ele declarou há uma década, em
tais circunstâncias, a exploração do trabalho continua, mas "fora de
qualquer medida econômica: sua realidade econômica é fixada exclusivamente em
termos políticos" [3].
Isso é
algo muito esotérico, particularmente os argumentos sobre a mensurabilidade (ou
não) do valor. Devemos perder tempo com isso? O que espero mostrar é que,
apesar de toda sua aparente obscuridade, esse debate é importante. Porque
levanta questões sobre como entender nosso contexto imediato, inclusive como
interpretar as possibilidades latentes na composição de classe contemporânea.
Será que um setor da composição de classe é capaz de dar a marcação do ritmo e o
tom nas lutas contra o capital, ou, ao invés, devemos olhar para a emergência
de "estranhos loops... curto-circuitos e estranhas conexões entre vários
setores da classe" (como Midnight Notes sugeriu uma vez) como uma condição
necessária para ir além do "atual estado de coisas"?
Desembrulhando o trabalho imaterial
A
discussão de Maurizio Lazzarato sobre "Trabalho imaterial" foi,
talvez, o primeiro tratamento extenso do assunto a aparecer em inglês. Parte de uma
antologia de importantes textos italianos publicados em meados dos anos 90, o
texto de Lazzarato definia o termo trabalho imaterial como "trabalho que
produz o conteúdo informacional e cultural da mercadoria" [4]. As formas
"clássicas" deste trabalho são representadas em áreas como
"produção audiovisual, publicidade, moda, produção de software,
fotografia, atividades culturais, e assim por diante", e aqueles que
executam tal trabalho geralmente encontram-se em circunstâncias de alta
casualidade, precariedade e exploração, como parte daquilo que, mais
recentemente e em certos círculos radicais da Europa Ocidental, veio a ser
chamado de "precariado" [5].
A
abordagem taylorista da produção que confrontou o operário massa tinha
decretado: "vocês não são pagos para pensar". Lazzarato argumentou
que, com o trabalho imaterial, o projeto gerencial mudou. De fato, ele se
tornou ainda mais totalitário do que a rígida divisão anterior entre trabalho
intelectual e trabalho manual (ideias e execução), porque o capitalismo procura
envolver até mesmo a personalidade do trabalhador no âmbito da produção do
valor [6].
Ao
mesmo tempo, Lazzarato acreditava que essa nova abordagem administrativa traria
riscos reais para o capital, uma vez que a própria existência do capital foi
colocada nas mãos de uma força de trabalho posta a exercer sua criatividade através
de empenhos coletivos. E, diferente de há um século atrás, quando uma camada de
trabalhadores qualificados ficava igualmente no centro de indústrias-chave, mas
em grande parte isolada das "massas" desorganizadas, o "trabalho
imaterial" de hoje não pode ser
entendido como atributo distintivo de um estrato dentro do força de trabalho.
Ao contrário, a mão de obra qualificada está presente (ainda que apenas de
forma latente) em amplos setores do mercado de trabalho, começando pelo jovem.
O
livro Império, de Michael Hardt e
Antonio Negri - um livro considerado (com ou sem razão) como a peça central do
pensamento pós-obreirista - foi construído com a obra de Lazzarato e a
modificou. Aceitando a premissa de que o trabalho imaterial passou a ser
central para a sobrevivência do capital (e, por extensão, para projetos que
visem a sua extinção), Hardt e Negri identificaram três segmentos do trabalho
imaterial:
a) os
exemplos transformados de produção industrial que abraçaram a comunicação como um
fluido vital; b) a realização de "análise simbólica e resolução de
problemas" por trabalhadores do conhecimento; c) o trabalho afetivo
encontrado sobretudo no setor de serviços [7].
Essas
experiências, admitia-se, podiam ser muito díspares: os trabalhadores do conhecimento,
por exemplo, foram divididos entre profissionais "high-end", com
considerável controle sobre suas condições de trabalho, enquanto outros são
envolvidos em "empregos de manipulação rotineira de símbolos, de baixo
valor e baixa qualificação" [8]. Porém, um fio comum ligaria os três
elementos. Como exemplos de trabalho em serviços, nenhum deles produz um
"bem material ou durável". Além disso, dado que o produto é fisicamente
intangível enquanto objeto discreto, então o trabalho que o produziu poderia
ser designado como "imaterial" [9].
Como
podemos cosiderar tais argumentos? Doug Henwood elogiou Império pela verve e otimismo de visão, porém acrescentou:
"Hardt
e Negri são frequentemente acríticos e crédulos em face da propaganda ortodoxa
sobre a globalização e a imaterialidade... Eles afirmam que o trabalho
imaterial - o trabalho nos serviços, basicamente - hoje prevalece sobre o
antiquado trabalho material, mas não cita nenhuma estatística: a acreditar
neles, você nunca esperaria que houvesse mais americanos que são motoristas de
caminhão do que profissionais de
informática. E nem passaria pela cabeça que três bilhões de pessoas, metade da
população da Terra, vive no terceiro mundo rural, onde a ocupação principal
continua sendo cultivar a terra" [10].
Nick
Dyer-Witheford também registrou várias críticas à abordagem de Hardt e Negri
sobre a composição de classe [11]. Para ele,
Império omite as tensões entre
os três fragmentos de classe que ele identifica, enquanto, em última análise,
lê o trabalho imaterial só através das lentes de sua manifestações
"high-end". E tudo isso é realmente tão novo quanto Hardt e Negri
insinuam? É como se o "trabalho afetivo", por exemplo, já não fosse
algo fundamental para a reprodução social no passado, mesmo que ele passasse
despercebido - devido a sua ampla composição de gênero, talvez - em muitas
análises sociais.
Outra
questão diz respeito à insistência de Império
de que "o aspecto cooperativo do trabalho imaterial não é imposto ou
organizado de fora" [12]. Novamente, talvez isso seja verdade para algum
trabalho no "high-end". Mas a obrigação de perguntar: "Você quer
batatas fritas com que?" realmente representa uma ruptura com os regimes
de trabalho fordistas? Ou muitos dos "McJobs" [empregos como os do
McDonalds] que predominam no fundo das profundezas da chamada produção
imaterial não poderiam ser melhor
caracterizados como "os descendentes taylorisados, desqualificados de
antigas formas trabalho de escritório" e outros trabalho nos serviços
[13]?
Mais
recentemente, em 2004, Hardt e Negri tentaram responder a alguns de seus
críticos no livro Multidão, a
sequência de Império. A primeira
coisa a notar aqui é que, enquanto o trabalho imaterial continua a ser o pivô
central para os argumentos do livro, ele é apresentado de uma forma um tanto
mais cautelosa e qualificada do que antes. De fato, Hardt e Negri têm o cuidado
de afirmar que:
a)
"Quando afirmamos que o trabalho imaterial tende para a posição
hegemônica, não estamos dizendo que a maioria dos trabalhadores no mundo de
hoje estão produzindo principalmente bens imateriais", b) "O trabalho
envolvido em toda produção imaterial, devemos enfatizar, permanece material -
ele envolve nossos corpos e cérebros como qualquer trabalho. O que é imaterial
é seu produto"[14].
Portanto,
tal como a ascensão da Multidão, aqui
a hegemonia do trabalho imaterial como ponto de referência, ou mesmo vanguarda,
para "a maioria dos trabalhadores no mundo de hoje" é considerada
como uma tendência, embora inexorável. No final da discussão de Multidão sobre trabalho imaterial, Hardt
e Negri falam no que eles chamam de "teste de realidade" - "que
evidências temos para verificar nossa afirmação de uma hegemonia do trabalho
imaterial" [15]? É o momento que
todos estávamos esperando, e infelizmente a meia página da discussão que eles
oferecem é decepcionante: uma alusão ao US Bureau of Statistics [Secetaria
de Estatísticas Laborais dos EUA] que indica que o trabalho em serviços está em
ascensão; o deslocamento da produção industrial "para partes subordinadas
do mundo", que sinalizaria o privilégio da produção imaterial no coração
do Império; a importância crescente
das "formas imateriais de propriedade"; e, finalmente, a disseminação
de formas de organização em rede específicas ao trabalho imaterial [16].
Chame-me de velho antiquado, mas é necessário algo mais do que isso em um livro
de mais de 400 páginas dedicadas a explicar suas declarações sobre a última
manifestação do proletariado como sujeito revolucionário...
A
referência ao aumento da atividade no setor de serviços é interessante por
várias razões. Huws argumenta que o aumento implacável do trabalho em serviços
no ocidente pode tomar outro significado se o emprego doméstico tão comum há
100 anos fosse levado em conta na equação [17]. Escrevendo uma década antes,
Sergio Bologna sugeriu que certas formas de trabalho só passaram a aparecer
como "serviços" nas estatísticas oficiais após terem sido
terceirizadas; anteriormente, quando eram realizadas "em casa", elas
apareciam como "manufatura" [18]. Nenhum autor está tentando negar
que mudanças importantes ocorreram na economia global, a começar por países
como a Grã-Bretanha, Austrália, Canadá e Estados Unidos. No entanto, eles pedem
cautela na interpretação das mudanças, e cuidado nas categorias usadas para
explicá-las. Bolonha - um antigo colaborador de Negri em vários projetos
políticos nos anos 60 e 70 - é particularmente cáustico sobre a noção de
trabalho imaterial, chamando-a um "mito" que, mais do que qualquer
outra coisa, oculta o aumento da jornada de trabalho [19].
Fim do valor enquanto medida?
Como
mencionado anteriormente, uma das características distintivas do pós-obreirismo
é a rejeição da assim chamada "lei do valor" de Marx. George
Caffentzis nos lembra que o próprio Marx raramente falava de uma tal lei, mas
que também não há dúvida sobre sua opinião de que, sob o domínio do capital, a
quantidade de tempo de trabalho socialmente necessário para produzir
mercadorias em última instância determina seu valor [20]. Rompendo com Marx a
este respeito, os pós-obreiristas se inspiram em uma passagem dos Grundrisse conhecida como
"Fragmento sobre as Máquinas". Este prevê uma situação, alinhada com
a tentativa perene do capital de se livrar da sua dependência do trabalho, onde
o conhecimento se tornou o fluido vital do capital fixo, e o input direto de
trabalho na produção é meramente incidental. Nestas circunstâncias, Marx
argumenta, o capital efetivamente destrói a base que o sustenta, pois "Tão
logo o trabalho na sua forma direta deixou de ser o grande fonte de riqueza, o
tempo de trabalho deixa e deve deixar de ser sua medida e, portanto, o valor de
troca [deve deixar de ser a medida] do valor de uso" [21].
Em seu
esforço para escapar do trabalho, o capital tenta uma série de coisas que, cada
uma à sua maneira, alimenta os argumentos que fazem o tempo de trabalho parecer
como irrelevante como a medida do desenvolvimento do capital. Considerada com
mais cuidado, no entanto, cada uma dessas coisas pode ser vista de um modo um
tanto diferente. Para começar, o capital tenta externalizar ao máximo seus
custos laborais: para dar um exemplo banal (embora não tão banal se você é um
ex-empregado de banco), incentivando o serviço bancário online e máquinas de
autoatendimento e desativando o atendimento de balcão. Quanto ao nosso próprio
cotidiano de trabalho, muitos de nós levam para casa cada vez mais trabalho
(até mesmo para o trem, ou o carro). Parecemos ter que ficar numa prontidão
cada vez maior, acessíveis através da internet ou telefone. Somadas,
estratégias desse tipo (que, para acrescentar confusão a tudo isso, pode muito
bem cruzar com nossas próprias aspirações individuais por mais flexibilidade)
ajudam em grande medida a explicar esse apagamento da separação entre os
componentes "trabalho" e "não trabalho" em nosso cotidiano.
Por outro lado, elas mostram essa separação sob uma perspectiva diferente da do
colapso do tempo de trabalho como medida do valor, uma perspectiva em que -
precisamente porque a quantidade de tempo de trabalho é crucial para a
existência do capital - o máximo de trabalho possível passa a ser executado na
sua forma não paga.
Em segundo
lugar, na tentativa de diminuir os custos laborais dentro de organizações
individuais, o capital também reformula o processo pelo qual os lucros são
distribuídos em uma escala setorial e global. Em uma série de ensaios nos
últimos 15 anos, George Caffentzis delineou a ideia, primeiramente elaborada no
terceiro volume de O Capital de Marx,
de que as taxas médias de lucro sugam a mais-valia dos setores
trabalho-intensivos para aqueles com um investimento maior em capital fixo:
"Para
que haja uma taxa média de lucro em todo o sistema capitalista, os ramos da
indústria que empregam muito pouco trabalho, mas muita maquinaria devem ser
capazes de ter o direito de reivindicar a reserva de valor que os ramos com baixa
tecnologia e muito trabalho criam. Se não houvesse tais ramos ou tal direito,
então a taxa média de lucro seria tão baixa nas industrias de alta tecnologia e
pouco trabalho que todo o investimento pararia e o sistema chegaria ao fim.
Consequentemente, "novos cercamentos" no campo devem acompanhar o
aumento de "processos automáticos" na indústria, o computador requer
o sweat shop, e a existência do ciborgue se sustenta na do escravo" [24].
Neste
exemplo, se não parece haver correlação imediata entre o valor de uma
mercadoria individual e o lucro que ela retorna do mercado, a resposta pode bem
ser que não há nenhuma: o quebra-cabeça só pode ser resolvido através da
análise do setor como um todo, em uma extensão que vai muito além dos
horizontes do trabalho imaterial. Aqui também, é uma questão de quais parâmetros
escolhemos para emoldurar nossa investigação.
Em
terceiro lugar, e em sequência, a divisão do trabalho em muitas organizações,
indústrias e empresas atingiu um ponto em que é difícil - e provavelmente sem
sentido - determinar a contribuição de um empregado individual para a massa de
mercadorias que ele ajuda a produzir [25]. Novamente, isso pode favorecer a
sensação de que o tempo de trabalho envolvido na produção de tais mercadorias
(tangíveis ou não) é irrelevante para o valor que elas contém. Marx, por sua
vez, argumentou que para tratar tudo isso, a questão central é de perspectiva:
"Se
considerarmos o trabalhador agregado,
ou seja, se tomarmos em conjunto todos os membros que compõem a oficina, então
vemos que a atividade combinada deles
resulta materialmente num produto agregado
que é ao mesmo tempo uma quantidade de
bens. E aqui é totalmente indiferente se o trabalho de um operário em
especial, que é meramente um membro desse trabalhador agregado, está a uma
distância maior ou menor do trabalhador manual real" [26].
Sobre
isso, a crítica de Ursula Huws da noção de "economia sem peso"
["weightless economy"] merece cuidadosa atenção. Como Doug Henwood em
sua desconstrução impetuosa da "nova economia" [27], Huws traz a
nossa atenção de volta não só para a enorme infra-estrutura que sustenta a
"economia do conhecimento", mas também para "o fato de que
pessoas reais, com corpos reais, contribuíram com tempo real para o
desenvolvimento dessas mercadorias 'sem peso'" [28]. Com relação a determinar
a contribuição do trabalho humano no âmbito da produção de mercadorias
imateriais, Huws argumenta que, enquanto pode "ser difícil fazer um
modelo", isso "não torna a tarefa impossível". Ou, nas palavras
de David Harvie, "todos dia, as personificações do capital - privadas ou
estatais - fazem julgamentos sobre o valor e sua medida" em seu esforço
"para reforçar a conexão entre valor e trabalho ", Ele acrescenta:
"Hardt
e Negri podem acreditar na 'impossibilidade de o poder conseguir calcular e
ordenar a produção em nível global', mas 'o poder' nunca parou de tentar, e a
'impossibilidade' de seu projeto deriva diretamente de nossas próprias lutas
contra a redução da vida à medida [29]."
Outros rumos?
Há não
muito tempo atrás, Dr. Woo me indicou uma apresentação de Brian Holmes, intitulada
"Deriva continental ou o outro lado da globalização neoliberal" [30].
Em grande parte, seu discurso é uma reflexão sobre os argumentos de Império de Hardt e Negri , aproveitando
o retrospecto fornecido por cinco anos de eventos desde a publicação do livro.
Para Holmes, muitos dos argumentos apresentados em Império foram importantes para desafiar os lugares comuns sobre
como elaborar a "visada ampla" das relações de poder global, forçando
uma reconsideração de termos tais como globalização e imperialismo. Mas se o
livro ajudou a desfazer alguns equívocos, ele praticamente não teve êxito em
suplantá-los com pontos de vistas mais adequados.
"Deriva
Continental" aborda uma série de questões, mas Holmes levanta três pontos
que têm grande relevância para a nossa discussão atual. Primeiramente, um foco
privilegiado no "trabalho imaterial" é cada vez mais insatisfatório
para os esforços de entender o que está acontecendo na composição de classe
contemporânea. Em segundo lugar, os eventos globais, desde a publicação do Império, lançam dúvidas sobre a
utilidade de ver a dominação do capital como um espaço liso que não tem
centro(s). E em terceiro lugar, é preciso dar mais atenção para as razões pelas
quais o mundo das finanças tornou-se um aspecto crucial do domínio do capital
em nosso tempo. Quanto ao primeiro ponto, Holmes oferece algumas críticas
semelhantes àquelas feitas por Dyer-Witheford. Se o conceito de trabalho
imaterial é importante para analisar certos tipos de trabalho "nos
chamados setores terciários ou de serviço das economias desenvolvidas",
falar de sua hegemonia pode obscurecer não apenas "a divisão global do
trabalho" e, assim, "a precisa condição em que as pessoas trabalham e
se reproduzem ", mas também como "elas concebem sua subordinação e
sua ação possível, ou seus desejos de mudança". Quanto ao segundo ponto,
Holmes argumenta que o capitalismo global é melhor compreendido através da
análise de "blocos regionais", como a União Européia ou o
envolvimento cada vez maior entre a China, o Japão e o Sudeste Asiático.
Finalmente, ele acredita que é necessário uma compreensão muito melhor do papel
do dinheiro - e das finanças, acima de tudo - no esforço do capital para manter
o controle nos níveis internacional e individual (a esse respeito, ver também
os escritos de Loren Goldner sobre capital fictício ) [31].
As
explorações mais ricas dos blocos regionais que encontrei são aquelas
desenvolvidas pelos analistas de "sistemas mundiais, como Immanuel
Wallerstein, Giovanni Arrighi e Silver Beverly. Curiosamente, seus esforços
para explicar o surgimento de um novo ciclo de acumulação global com epicentro
na Ásia estão intimamente ligados com uma tentativa de entender por que a
expansão do capital-dinheiro tomou o primeiro plano ao longo dos últimos 30
anos. Para eles, a predominância da expansão financeira é sintomática de uma
fase necessária no ciclo de acumulação, quando, a medida que incertezas vão se
acumulando sobre a lucratividade da produção, indústrias são realocadas, o
capital fica ocioso e os trabalhadores são pilhados, e "uma acentuada
aceleração da polarização econômica [ocorre] a nível mundial e dentro dos
estados" [32]. Nos últimos tempos, Arrighi (que também escreveu um dos
comentários mais considerados de Império)
dedicou grande parte de seus esforços para compreender as fortunas minguantes
do estado e do capital nos EUA nesse processo [33], enquanto Silver tem se concentrado nas perspectivas
que os trabalhadores contemporâneos enfrentam em uma época de fuga
de capitais [34]. A obra desses autores (muitas estão na internet) vale uma
olhada: em parte pelos desafios que oferecem a várias ortodoxias radicais, mas
também pela profundidade de análise que eles realizam dos conflitos entre e
dentro das forças do trabalho e do capital hoje.
Há
ainda muito por desemaranhar nas questões abordadas aqui. Ao mesmo tempo,
existem algumas pistas úteis sobre aonde ir. Por exemplo, a centralidade atual
do dinheiro como capital, com todas as peculiaridades que ela implica, pode oferecer
uma outra razão pela qual pode parecer que o tempo de trabalho socialmente
necessário já não tem qualquer influência sobre a existência do capital como
valor em busca de maior valor. Aventuras especulativas – abundantes na última
década - parecem fazer dinheiro do nada. Mas, na verdade, eles não fazem nada
para aumentar a reserva total de valor gerado pelo capital. Na melhor das
hipóteses, eles redistribuem o que já existe. De modo duvidoso, eles procuram
contornar a esfera da produção para, ao invés, fazer dinheiro "da aposta
na futura exploração do trabalho" [35]. Enquanto isso, o débito continua a
inchar, desde a micro escala do indivíduo e do cartão de crédito familiar, até
o macro nível dos orçamentos públicos e dos déficits em conta corrente.
Quaisquer que sejam as formas engenhosas pelas quais o fardo dessa dívida será
redistribuído, os termos da aposta não podem ser antecipados para sempre.
Quando forem finalmente cobradas, as coisas vão se realmente tornar muito
interessantes. No mínimo, podemos então descobrir finalmente se, como Madonna
cantou:
"The boy with the cold hard cash Is always Mister Right, ’cause we are Living in a material world."
Steve
Wright <pmargin@optusnet.com.au> trabalha na Monash University e é o
autor de Storming Heaven: Class Composition and Struggle in Italian Autonomist
Marxism, London: Pluto Press
Veja também:
A logística e a fábrica sem muros (Brian Ashton, 2006)
Serviços: subsunção formal (Endnotes, 2010)
A rede de lutas na Itália (Romano Alquati, anos 1970)
Notas
1
Agradeço a Hobo por me contar esta história. Agradeço também a Angela Mitropoulos
e Nate Holdren pelas úteis sugestões a este texto. Todos os erros são meus,
etc.
2 Para
a melhor introdução sobre o pós-obreirismo, ver Generation Online website
http://www.generation-online.org
3
Negri, A. (1994) ‘Oltre la legge di valore’, DeriveApprodi 5-6, Winter
4
Lazzarato, M. (1996) ‘Immaterial Labour’, in P. Virno & M. Hardt (eds.)
Radical Thought in Italy: A Potential Politics. Minneapolis: University of
Minnesota Press, p.133
5
Ibid, p.137
6
Ibid, p.136
7
Hardt, M. & Negri, A. (2000) Empire. Cambridge: Harvard University Press,
p.30
8
Ibid, p.292
9
Ibid, p.290
10
Henwood, D. (2003) After the New Economy. New York: New Press, pp.184-5
11
Dyer-Witheford, N. (2005) ‘Cyber-Negri: General Intellect and Immaterial
Labour’, in Murphy, T. & Mustapha, A. (eds.) Resistance in Practice: The
Philosophy of Antonio Negri. London: Pluto Press, pp.151-55
12
Hardt & Negri (2000), op. cit., p294
13
Huws, U. (2003) The Making of a Cybertariat. New York: Monthly Review Press,
p.138
14
Hardt, M. & Negri, A. (2004) Multitude: War and Democracy in the Age of
Empire. New York: Penguin, p.109
15
Ibid, p.114
16
Ibid, p.115
17
Huws, op. cit, p.130
18
Bologna, S. (1992) ‘Problematiche del lavoro autonomo in Italia (I)’,
Altreragioni 1, June, pp.20-1
19
Ibid, pp.22-4
20
Caffentzis, G. (2005) ‘Immeasurable Value?: An Essay on Marx’s Legacy’, The
Commoner 10, Spring/Summer
21
Marx, K. (1973) Grundrisse. Hardmondsworth: Penguin, p.705
22
Negri, (1994), op. cit., 28
23
Marx, op. cit., 706
24
Caffentzis, G. (1997) ‘Why Machines Cannot Create Value or, Marx’s Theory of
Machines’, in J. Davis, T. Hirschl & M. Stack (eds.) Cutting Edge:
Technology, Information, Capitalism and Social Revolution. London: Verso
25
Harvie, D. (2005) ‘All Labour is Productive and Unproductive’, The Commoner 10,
Spring/Summer
26
Marx, K. (1976) ‘Results of the Immediate Process of Production’, now in
Capital Vol. I. Hardmondsworth: Penguin, quoted in H. Cleaver, H. Cleaver
(2001) Reading Capital Politically. Second Edition. Antithesis
27
Henwood, op. cit.
28
Huws, op. cit., pp.142-3
29
Harvie, op. cit., pp.151-154
30
Holmes, B. (2005) ‘Continental Drift Or, The Other Side of Neoliberal
Globalization’,
http://info.interactivist.net/article.pl?sid=05/09/27/131214&mode=nocomment&tid=90
31
Goldner, L. (2005) ‘China In the Contemporary World Dynamic of Accumulation and
Class Struggle’, http://home.earthlink.net/~lrgoldner/china.html, and L.
Goldner (2005) ‘Fictitious Capital and the Transition out of Capitalism’,
http://home.earthlink.net/%7Elrgoldner/program.html
32
Wallerstein, I. (2003) The Decline of American Power. New York: The New Press,
p.275
33
Arrighi, G. (2005a) ‘Hegemony Unravelling – 1’ , New Left Review 32, March-April, and,
Arrighi, G. (2005b) ‘Hegemony Unravelling – 2’ , New Left Review 33, May-June
34
Silver, B. (2002) Forces of Labour. Cambridge: Cambridge University Press
Postado por
humanaesfera
0
comentários


Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
capital rentista,
composição de classe,
industria cultural,
Mais-valia,
mercado financeiro,
Patentes,
propriedade intelectual,
superlucros,
superprodução,
Trabalho imaterial
Assinar:
Postagens (Atom)